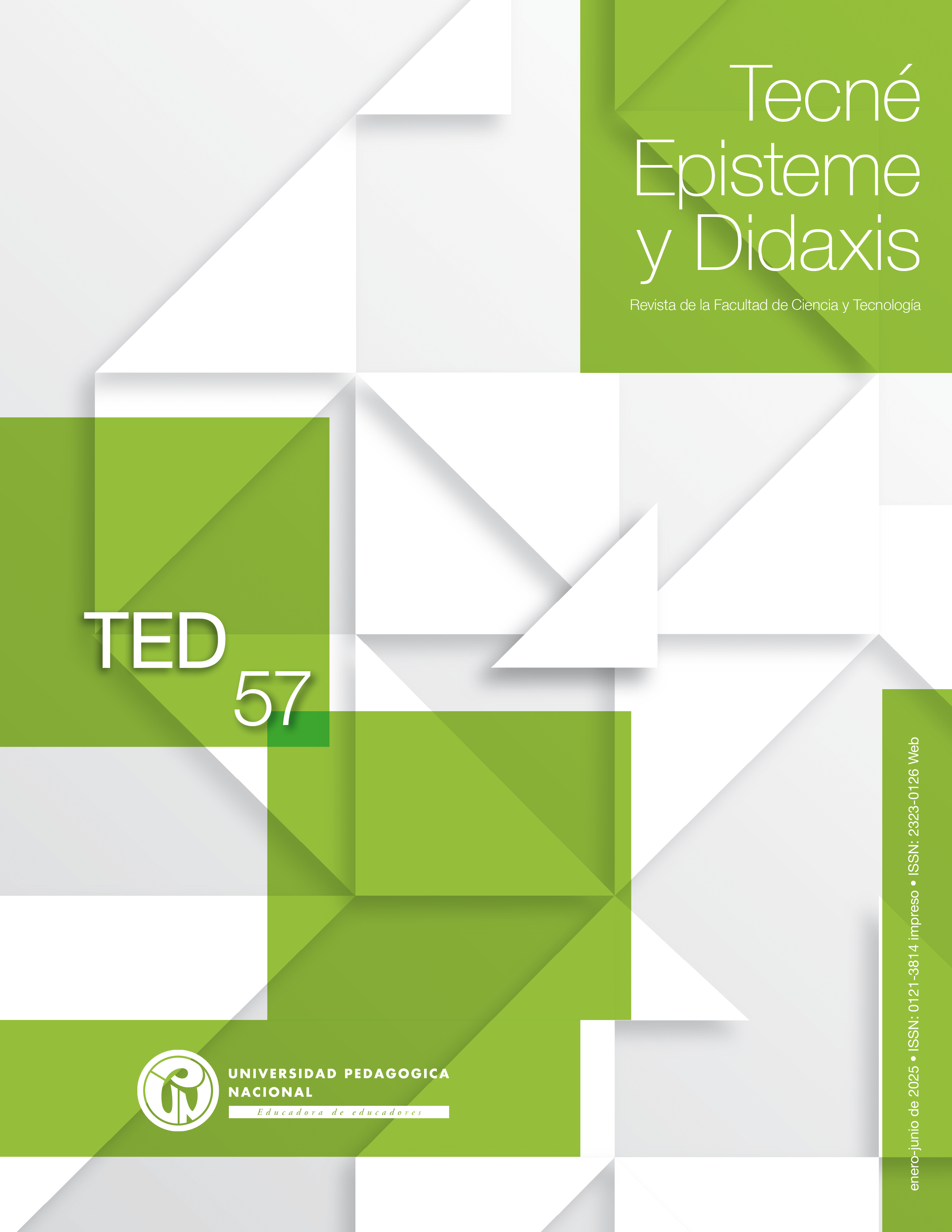Posibilidades didácticas del cine en el aula: educación para la salud y negación científica
Resumen
Este artículo explora el potencial de la película Sonhos Tropicais como herramienta pedagógica capaz de inspirar la elaboración de materiales didácticos por parte de profesores en formación inicial en Ciencias Biológicas. Metodológicamente, la investigación se basó en el análisis microgenético, teniendo como participantes a licenciandos/as en Ciencias Biológicas de una Institución de Educación Superior (ies). Los datos analizados consistieron en fragmentos de transcripciones de interacciones y materiales didácticos producidos por los participantes. Como resultado, identificamos dos escenas, siendo que la escena 1 incluyó dos episodios para su análisis. Las discusiones del estudio se fundamentaron en el enfoque histórico-cultural propuesto por Vigotsky. Esta investigación destaca el rol didáctico del cine como herramienta pedagógica en el aula, donde su intencionalidad se refleja en actividades que abordan diversos temas relacionados con la Educación en Salud. Por lo tanto, concluimos que el uso del cine con intencionalidad pedagógica en la enseñanza permite discutir una variedad de temas, como la alfabetización científica, la salud pública, las infecciones de transmisión sexual (its), la vida y obra de Oswaldo Cruz, la investigación en Brasil, la campaña nacional de vacunación y la historia de Zé Gotinha. Estas herramientas culturales contribuyen al desarrollo de las funciones psicológicas superiores y, dados los contextos en los que se utilizan y la intencionalidad pedagógica aplicada, es posible formar sujetos críticos y activos en la sociedad.
Citas
Bartelmebs, R. C., Venturi, T., Sousa, R. (2021). Pandemia, negacionismo científico, pós-verdade: contribuições da Pós-Graduação em Educação em Ciências na formação de professores. Revista Insignare Scientia – RIS.
Busnardo, F., Lopes, A. C. (2010). Os discursos da comunidade disciplinar de ensino de biologia: circulação em múltiplos contextos. Ciência & Educação (Bauru). Recuperado em 12 de Fevereiro de 2022, de https://www.scielo.br/j/ciedu/a/Nd6CJzsYVwF3t-MzzvwNVBhM/abstract/?lang=pt.
de Pessoa Carvalho, A. M. (2015). Uma metodologia de pesquisa para estudar os processos de ensino e aprendizagem em salas de aula. Em I. M. G. F. M. T dos Santos (Org.), A pesquisa em ensino de ciências no Brasil e suas metodologias.
Carvalho, A. M. P., Gil Pérez, D. (1995). Formação de professores de ciências: tendências e inovações. Cortez.
Chassot, A. I. (2003). Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação. Unijuí. Cossetin, S. R., Frison, M. D. (2021). Concepções de professores de física e engenharia quanto à formação de conceitos científicos. Revista Insignare Scientia – RIS. Recuperado em 12 de Fevereiro de 2022, de https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/RIS/article/view/12151.
Duarte, R. (2002). Cinema e Educação. Autêntica.
Góes, M. C. R. (2000) A abordagem microgenética na matriz histórico-cultural: Uma perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade. Cadernos CEDES. Recuperado em 12 de Fevereiro de 2022, de https://www.scielo.br/j/ccedes/a/3HgqZgZCCZHZD85MvqSNWtn/?format=pdf&lang=pt.
Melo, J., Silva, G., Bomfim, Z., Sousa, I., Farias Júnior, L. (2020). Teoria histórico-cultural - Contribuições para a prática psicopedagógica. Revista Psicopedagogia.
Oliveira, B. J. (2006). Cinema e imaginário científico. História, Ciências, Saúde Manguinhos.
Pauletti, E. S., Santos, E. G. (2022). Cinema na formação de professores: práticas e discussões sobre saúde. Revista Pedagógica. Recuperado em 1 de julho de 2022, de https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/6770.
Santos, E. G. (2018). A educação em saúde nos processos formativos de professores de Ciências da Natureza mediada por filmes. (Tese de Doutorado Curso de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação nas Ciências, Unijui).
Sasseron, L. H. (2015). Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. Ens. Pesquisa em Educação em Ciências. Recuperado em 29 de abril de 2022 de https://www.scielo.br/j/epec/a/K556Lc5V7Lnh8QcckBTTMcq/?lang=pt.
Scliar, M. (2007). História do conceito de saúde. Revista Saúde Coletiva. Recuperado em 10 de junho de 2022 de http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a03.pdf.
Siebert, S., Daltoé, A. S. (2021) A ciência resiste. Linguagem em (Dis)Curso. Recuperado em 10 de junho de 2022 de https://www.scielo.br/j/ld/a/jrWhTBYv-4gHr8DQfzGtdkdg/?lang=pt.
Silva, L. H. A. (2013). A perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano: ideias para estudo e investigação do desenvolvimento dos processos cognitivos em ciências. Em R. I. C. GÜLLICH (Org). Didática das ciências.
Silva, L. H. A., Schnetzler, R. P. (2006). Mediação pedagógica em uma disciplina científica como referência formativa para a docência de futuros professores de biologia. Revista Ciência e Educação.
Siqueira, A. C., Vilaça, F. A., Frenedozo, R. de C., & Schimiguel, J. (2018). Educação em Saúde: um panorama dos trabalhos apresentados no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC (2013-2017). Revista De Ensino De Ciências E Matemática, 9(5), 76–93. https://doi.org/10.26843/rencima.v9i5.2050
Tosta, C. G. (2012). Vigotski e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Perspectivas em Psicologia.
Venturi, T. (2018). Educação em saúde sob uma perspectiva pedagógica e formação de professores: contribuições das ilhotas interdisciplinares de racionalidade para o desenvolvimento profissional docente. (Tese Doutorado em Educação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina).
Veríssimo, E. (2004). O tempo e o vento: o arquipélago. Compania das Letras.
Viana, M. C. V., Rosa, M., Orey, D. C. (2014). O cinema como uma ferramenta pedagógica na sala de aula: um resgate à diversidade cultural. Ensino em Re-Vista, Recuperado em 23 de setembro de 2022 de https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/25057.
Vigotski, L. S. (2001). A construção do pensamento e da linguagem. Martins Fontes.
Vigotski, L. S. (1996). Pensamento e linguagem. Martins Fontes.
Wenzel, J. S., Maldaner, O. A.(2016). A prática da escrita e da reescrita orientada no processo de significação conceitual em aulas de química. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências.
Descargas
Derechos de autor 2025 Tecné, Episteme y Didaxis: TED

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.